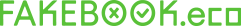Clima extremo mataria brasileiros de calor
Cenário de aquecimento descontrolado no país deixaria milhões em risco de morte por incapacidade do corpo de compensar temperatura; em algumas regiões, nem o mosquito da dengue se adaptaria
CLAUDIO ANGELO
DO OC
Esqueça o governo Dilma: o Brasil vai virar um lugar realmente desagradável para viver caso as emissões mundiais de gases de efeito estufa prossigam sua trajetória atual. Nesse cenário, teríamos 50% de chance de ultrapassar os 3oC de aquecimento em relação à era pré-industrial já em 2030, batendo os 4oC em algum momento por volta de 2070. E aí a porca começaria a torcer o rabo.
Num país 4 graus mais quente, 9 milhões de pessoas em 267 municípios do Norte e do Centro-Oeste estariam em risco de, literalmente, morrer de calor. Doenças como dengue e zika se expandiriam em Estados do Sudeste, e a região Sul se tornaria propícia ao mosquito Aedes aegypti. A malária, hoje confinada à Amazônia, se espalharia pelo Centro-Oeste. O risco de falta de energia seria de 100% todos os anos, a menos que centenas de bilhões de dólares fossem investidos em termelétricas altamente poluentes – que agravariam ainda mais o problema. Extinções de espécies ocorreriam por todo o país, afetando inclusive a produção de alimentos. O arroz e o feijão, que formam a base da dieta dos brasileiros, teriam reduções drásticas em sua área de cultivo. E as próprias porcas sofreriam abortos espontâneos devido às altas temperaturas.
Esse cenário apocalíptico foi traçado por um grupo de pesquisadores brasileiros no estudo “Riscos de Mudanças Climáticas no Brasil e Limites à Adaptação”, cujo sumário executivo foi apresentado nesta quarta-feira em Brasília. O trabalho, iniciado em 2015, é a primeira grande revisão de estudos sobre os impactos de um aquecimento extremo no Brasil. Ele integra um projeto internacional financiado pelo Reino Unido e idealizado pelo assessor científico do governo britânico, David King.
As tragédias descritas no trabalho para o futuro do Brasil não têm valor de profecia: trata-se de uma tentativa deliberada de investigar o que aconteceria no país nos piores cenários de mudanças climáticas. Mesmo que a probabilidade desses eventos seja baixa (e é), argumentam seus autores, o impacto potencial deles é tão grande que justifica a ação para evitá-los. Para isso, é preciso entender e dimensionar os riscos.
O climatologista Carlos Nobre, presidente da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), que coordenou o estudo juntamente com José Marengo, do Cemaden (Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), compara a ação climática a um seguro: “Se você entra num avião e o piloto diz que o avião tem uma chance em dez de chance de cair, você não embarca. Com uma chance em cem eu não embarco. Qualquer coisa que tenha risco de 0,1% a 1% já é para nós intolerável”, diz. “A aviação e a indústria de seguros trabalham com isso, mas em mudanças climáticas isso não evoluiu.”
Segundo Nobre, em outras áreas, como a de saúde, existe uma cultura bem mais estabelecida de atender ao princípio da precaução. Ele usa um exemplo recente: “Até hoje não existe uma certeza científica total sobre a relação entre o vírus zika e a microcefalia. No entanto, os médicos aconselharam as mulheres a atrasar a gravidez. Imediatamente houve uma ação de política pública que afeta a vida das pessoas”, comparou. “Nós não enxergamos isso ainda em mudança climática. Se quisermos ter aversão a esse risco, só há uma linha a seguir, que é reduzir as emissões a praticamente zero.”
Para estimar a probabilidade de graus elevados de aquecimento no Brasil, Wagner Soares, pesquisador do Cemaden, rodou 150 simulações dos modelos de clima usados pelo IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas) em quatro cenários: desde o de emissões mais baixas, o chamado RCP 2.6, até o de emissões mais altas, o RCP 8.5, que assume que nada será feito para conter a trajetória atual de emissões — ou seja, que o acordo do clima de Paris fracassará.
Os modelos climáticos indicam que, no cenário de emissões mais altas, o Brasil ultrapassará os 4oC de aquecimento já em 2070, os 5oC logo após 2100 e os 6oC em algum momento entre 2150 e 2200, com uma probabilidade de mais de 70% de exceder os 7oC após 2200. Mesmo no cenário mais ambicioso de corte de emissões, compatível com a meta de Paris de manter o aquecimento global em 2oC, o país ainda tem 10% de chance de esquentar 3oC no meio deste século. Os gases de efeito estufa que já estão no ar, argumenta Soares, já descartam a manutenção da temperatura em 1,5oC sem um “overshoot” – ou seja, uma subida para além da meta seguida de uma queda.
Círculo vicioso
Os impactos do pior cenário do IPCC foram estudados para quatro setores: agricultura, biodiversidade, saúde e energia. Em cada um deles há um conjunto de más notícias.
Em energia, por exemplo, os cenários foram retirados do estudo “Brasil 2040”, que prevê uma redução drástica na vazão dos rios, na capacidade dos reservatórios e, portanto, na geração das hidrelétricas, como o OC reportou no ano passado. Segundo Roberto Schaeffer, da Coppe-UFRJ, coordenador do estudo, a queda na geração hídrica seria de 25% no pior caso.
Schaeffer aponta um paradoxo climático no setor: as energias renováveis são mais impactadas pelo aquecimento global, e países como o Brasil, que têm muitas renováveis na matriz, podem se proteger adotando termelétricas fósseis – que esquentam ainda mais o planeta. “É uma situação perversa, porque a gente precisa ir para outras coisas, e essas outras coisas são térmicas a gás, por exemplo.” O custo estimado de sujar a matriz para se proteger é de US$ 280 bilhões até 2040, a maior parte para bancar combustíveis fósseis para as termelétricas.
Os cenários para agricultura foram coordenados por Eduardo Assad, da Embrapa de Campinas. Assad tentou descobrir o que acontece com as principais culturas agrícolas em relação ao risco climático. Considera-se região de alto risco qualquer área onde a probabilidade de uma quebra de safra seja maior que 20% num ano qualquer.
Por esse critério, a segurança alimentar do brasileiro teria problemas: no fim do século, 57% da área onde se planta feijão seria de alto risco, e a produção de arroz seria confinada a áreas irrigáveis de Goiás, norte de Mato Grosso e Pará. A soja seria reduzida a 19% de sua zona de cultivo de baixo risco. Temperaturas extremas, acima de 35oC, atingiriam o país inteiro, prejudicando a fisiologia das plantas – que precisam de uma diferença grande entre mínimas e máximas para frutificar – e de animais de produção. “Com temperaturas acima de 35oC você tem abortamento de flor de café, abortamento de porcas e, algo de que não se fala muito, mas que é sério, morte de abelhas.”
Nem mosquito aguenta
Mais graves ainda são os impactos para a saúde humana. Sandra Hakon e Beatriz Oliveira, da Fiocruz, consideraram aspectos que vão da capacidade fisiológica do organismo humano de suportar altas temperaturas e alta umidade (um indicador chamado “temperatura do bulbo úmido”) até a probabilidade de disseminação de doenças propagadas por insetos, como dengue, zika e malária. Como a saúde é multissetorial, ou seja, depende de vários fatores, não apenas do clima, previsões são mais difíceis nessa área. Mas o que os estudos permitem vislumbrar não é nada agradável.
“No cenário pessimista, no final do século maior parte do território brasileiro exposta a alto risco de mortalidade por de calor”, disse Oliveira. Em parte do Norte e do Centro-Oeste, aumentos de 10oC a 14oC nas temperaturas máximas seriam verificados, elevando a temperatura de bulbo úmido além dos 35oC. A junção de calor extremo e umidade elevada podem matar quem não tiver acesso a ar-condicionado. Em Porto Velho, essas condições extremas ocorreriam três meses por ano – de setembro a novembro. Em Teresina, praticamente o ano inteiro. Os grupos mais vulneráveis, crianças e idosos, seriam mais duramente atingidos – entre estes últimos, a taxa de mortalidade poderá crescer 7,5 vezes. “O que é preocupante, pois estamos aumentando esse grupo na nossa pirâmide etária”, lembrou a pesquisadora.
O Aedes aegypti conquistaria novos territórios, como o Sul do país, mas aqui há uma surpresa: as porções mais quentes do Brasil, novamente o Centro-Oeste e o Norte, esquentariam tanto que ficariam menos propícias até mesmo ao mosquito. Esse declínio seria compensado, porém, por aumentos em outras regiões – a previsão é de mais dengue no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. “A capacidade vetorial [de transmitir doenças] do mosquito se mantém no país”, disse Beatriz Oliveira.
Se os mosquitos na média não perdem, o mesmo não pode se dizer de outras espécies: de plantas comestíveis do cerrado até abelhas da Mata Atlântica, passando por peixes de águas profundas do Atlântico Sul, o cenário de clima extremo para o Brasil é de extinções – e isso pode ter impactos sobre a economia. Fábio Scarano, professor da UFRJ e diretor da Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável, organização integrante do OC, coordenou a avaliação de biodiversidade e concluiu que o quadro é preocupante. Um dos estudos avaliados por ele, por exemplo, mostra que, num cenário de altos graus de aquecimento, árvores de florestas tropicais da América do Sul poderiam ter 200 dias de crescimento a menos por ano – o que reforça a hipótese de Carlos Nobre, proposta na década passada, de que parte da Amazônia pode virar uma savana.
O quadro de extinções é particularmente grave para a América do Sul, onde a alta biodiversidade se soma a altas taxas de desmatamento. Algumas espécies podem não ter nem para onde migrar. “O pequi, o buriti e o murici vão se deslocar para o sudeste do cerrado, que é São Paulo, onde a gente sabe que não tem mais cerrado”, afirma.